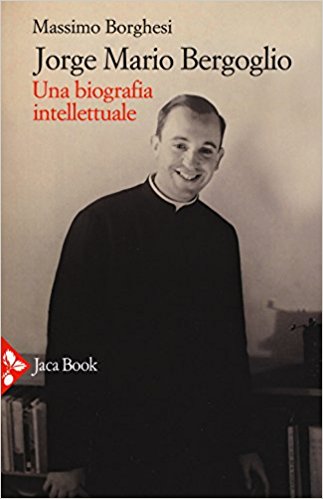Se um tal acordo muito comentado entre o Vaticano e a China para a nomeação episcopal for finalizado este ano, ele irá destacar a assertividade internacional que tem sido uma característica do pontificado do Papa Francisco. No entanto, irá também ser altamente polêmico, levantando uma dúvida sobre a distância em que Roma se encontra quanto a entender as dinâmicas contemporâneas de poder e até que ponto se pode confiar nelas.
Jonathan Luxmoore cobre notícias religiosas a partir de Oxford, na Inglaterra, e Varsóvia, na Polônia. “The God of the Gulag” (Gracewing, 2016) é um estudo seu publicado em dois volumes sobre os mártires da era comunista.
Nos cinco anos desde a eleição em março de 2013, como o primeiro papa do sul global Francisco deixou o mundo com uma pequena dúvida sobre onde a sua Igreja se posiciona em relação a temas contemporâneos fundamentais. Grande parte da cobertura da imprensa vem focando as divisões internas da Igreja, com os tradicionalistas católicos resistindo às reformas pastorais, mas a presença internacional do Vaticano viu um crescimento constante sob seu comando, naquilo que uns analistas chamam de a nova “diplomacia da misericórdia”.
Na mensagem para o Dia Mundial da Paz no começo de 2018, o papa recordou um dos grandes temas de seu pontificado ao pedir por compaixão para com os mais de 250 milhões de migrantes e refugiados no mundo. Mas o seu pedido por uma ação coordenada e por uma “gestão responsável de novas situações complexas” pareceu mudar o foco da defesa puramente moral para algo mais concreto.
Observações semelhantes foram feitas quando o pontífice visitou o Chile e o Peru em meados de janeiro deste ano, quando defendeu os povos indígenas contra “interesses econômicos poderosos” e, em 2017, quando foi a Myanmar e Bangladesh. Em cada caso, embora tenha ganho elogios por defender os direitos humanos por princípio, aspectos práticos sobre o posicionamento de Francisco foram também questionados – como aconteceu ao não defender os Rohingya perseguidos em Myanmar citando-os pelo nome enquanto esteve no país.
A influência política da Igreja
Espera-se que um acordo com a China comunista deva ser igualmente contestado, com uns acolhendo-o como uma oportunidade de restauração da unidade com a Igreja chinesa e outros rejeitando-o como uma traição às comunidades católicas há tempos sofredoras.
Roma enfrentou dilemas parecidos na Europa Oriental comunista, quando esteve sob pressão constante para conceder aos regimes locais o prestígio e os benefícios dos laços diplomáticos em troca da promessa de eles pararem com as perseguições e normalizarem o status da Igreja em seus territórios.
Nestes casos, será que o Vaticano realmente compreendia a mentalidade comunista, os pontos fortes e fracos do regime? Ainda que o polonês São João Paulo II o entendia, sem dúvida alguma fica aberta a questão sobre se isso pode ser dito de Francisco.
Independentemente do que uns podem achar aqui, Roma tem certos ativos poderosos para acionar na busca de suas iniciativas.
A Santa Sé tem hoje uma presença permanente em aproximadamente 40 organizações internacionais, desde as Nações Unidas e suas agências até o Conselho da Europa, a Liga Árabe e a Organização dos Estados Americanos, no momento em que a Rádio Vaticano faz as suas transmissões em 47 idiomas – mais do que o Voice of America ou a BBC.
O próprio papa tem 40 milhões de seguidores no Twitter, e eles aumentam cerca de 25% ao ano; só a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma tem alunos de, no mínimo, 150 países.
Enquanto isso, a população católica mundial dobrou nas últimas três décadas para perto do 1.3 bilhão de fiéis. No final de 2015, havia 5.304 bispos, 415.656 padres e 670.320 religiosas, segundo informou o Vaticano.
Mesmo em países com minorias católicas a Igreja exerce uma influência considerável. Em nível mundial, ela continua sendo um dos maiores provedores de educação e assistência à saúde não governamental. É também um dos maiores doadores de ajuda humanitária, com a Caritas Internationalis coordenando, de Roma, organizações católicas em uns 200 países.
Como um centro nervoso desta rede altamente organizada, o Vaticano está igualmente expandindo a sua presença diplomática. Quando Myanmar estabeleceu relações em maio passado, ele foi o 193º país a assim fazer e o 111º a hospedar uma nunciatura apostólica permanente.
Acadêmicos e jornalistas rotineiramente ignoram o papel do Vaticano, visto que ele não pode ser quantificado por critérios políticos, econômicos ou militares; não pode ser mensurado segundo a interação usual dos interesses de Estado. Afinal, é o menor Estado do mundo: apenas 110 acres com uma população oficial de 1.000.
Mesmo assim, há inúmeras evidências para sugerir que a sua influência e o seu trabalho social não devem ser subestimados.
O Tratado de Latrão, de 1929, que definiu o status moderno do Vaticano, veio após seis décadas de marginalização desde a perda dos Estados Papais, em 1870 – evento que acabou com 1.000 anos de poder temporal sobre a península italiana.
Os papas demoraram muito para responder aos problemas do mundo contemporâneo e testemunharam o desmantelamento do poder da Igreja na Alemanha de Bismarck e na Terceira República anticlerical da França, seguido por ataques brutais contra o clero e fiéis em novos Estados revolucionários como a Espanha e a Rússia.
O papel do Vaticano, porém, reafirmou-se quando se tornou parte do sistema internacional nos anos posteriores à Guerra Mundial. E na época do Concílio Vaticano II (1962-1965), Roma esteve inundada de agentes e espiões dos governos desejosos por antecipar onde a Igreja poria em prática a sua influência sob a política do aggiornamento, ou abertura, do Papa João XXIII.
Eles estavam certos em se manterem interessados.
Tendo se tornado o primeiro papa a deixar a Itália desde 1809, o Papa Paulo VI visitou 20 países, enquanto o seu sucessor, João Paulo II, visitou 129 – alguns, como os EUA, a França e a Polônia, seu país natal, foram visitados em múltiplas ocasiões.
Independentemente do que venham a pensar os críticos da ‘postura conservadora’ de João Paulo II no tocante à doutrina e no comando da Igreja, dificilmente se pode pôr em dúvida a importância dele no cenário mundial.
O pontífice polonês foi fundamental para a queda de ditaduras como as das Filipinas e do Paraguai. Ele interveio em numerosas disputas, opondo-se à doutrina da preempção na “guerra contra o terror” pós-11 de setembro, e se tornando uma força motriz nos contatos inter-religiosos, em particular com o Islã.
A maior façanha política de João Paulo II, ajudando a derrubar o regime comunista na Europa Oriental e na União Soviética, é amplamente ignorada pelos indispostos ou incapazes de reconhecer o lugar da religião nos eventos mundiais.
Mas ele foi reconhecido com fundamental pelos próprios chefes comunistas, entre eles o poderoso Gen. Wojciech Jaruzelski, que, tendo acionado o poder do Estado contra a Igreja, mais tarde confessou que os ensinamentos espirituosos do papa haviam “redespertado as esperanças e expectativas de mudança”.
Em 1997, o último governante do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, saudou João Paulo II como “o maior líder de esquerda do mundo”, citando a oposição deste à pobreza e à injustiça e reconhecendo que o fim do regime comunista teria sido “impossível” sem o papa.
Embora todo desafio político deva ser abordado em seus méritos, o papel do papa polonês na derrocada do comunismo europeu serviu como um modelo para ações de paz coordenadas pela Igreja em outros lugares.
Os precedentes de João Paulo II
João Paulo II viu mais claramente do que seus antecessores que a fidelidade espiritual poderia ter consequências políticas. Mas também ele concluiu que a violência não era a resposta certa, visto que regimes autoritários e totalitários emergiam mais fortes quando desafiados pela força.
Usando noções simples da tradição cristã, lembrou pessoas confusas e desmoralizadas sobre as verdades e os valores que sabiam mas que tinham esquecido. O que as fez decisivas foi a forma como foram faladas – não nos ambientes sedados das igrejas e conventos, mas sim no pleno funcionamento das praças das cidades, nos parques industriais e urbanos.
Isso tudo era uma reviravolta total às humilhações do século XIX, quando Marx e Engels denunciaram o papado no “Manifesto Comunista”, de 1848, como uma das “potências da velha Europa”, e o Papa Pio IX, no “Syllabus dos Erros”, de 1864, furiosamente se recusou a reconciliar-se “com o progresso, com o liberalismo e com a sociedade civil”.
Enquanto os pontífices anteriores, fascinados pelas imagens de destruição da Revolução Francesa ou da Comuna de Paris, temeram os movimentos sociais espontâneos, João Paulo II viu-os como aliados – uma energia criativa que a Igreja poderia aproveitar para finalidades divinas.
A Igreja precisava achar a sua própria solução para os problemas que o comunismo tinha salientado: as relações entre mão de obra e capital, trabalho e propriedade, exploração e alienação. E tinha de encontrar um estímulo positivo, libertador para contrapor os ressentimentos negativos e cativantes que os governantes comunistas usavam como ferramentas de poder.
“Os movimentos de solidariedade”, frase usada na encíclica de 1981, Laborem Exercens, poderiam ser amigos, não inimigos, do cristianismo – ao alcançar uma vitória moral contra o medo e o ódio que, em última instância, tornou-se uma vitória política.
O papa conhecia o poder das palavras, dos símbolos e das imagens. Numa era de globalização econômica e comunicação em massa, percebeu que o poder dos governos estava diminuindo.
Os caças, tanques e mísseis das superpotências poderiam destruir o mundo muitas vezes. Mas sem pessoas para voá-los, dirigi-los ou lançá-los, eram pedaços de metal sem serventia. Era com as pessoas e com a opinião pública onde o poder real da Igreja se encontrava.
O reconhecimento deste estender a mão sem precedentes à opinião pública, e a prontidão a mobilizá-la, refletiu-se nos líderes políticos que agora faziam do Vaticano um porto seguro.
Enquanto nenhum presidente americano se importou em encontrar-se com o papa durante 40 anos depois da visita a Roma do presidente Woodrow Wilson em 1919, João Paulo II teve duas reuniões com Jimmy Carter no espaço de meio ano, seguido de quatro com Ronald Reagan e quatro com Bill Clinton; o presidente George W. Bush visitou o Vaticano cinco vezes.
Uma tradição de diplomacia silenciosa
Quando o papa polonês morreu em abril de 2005, estiveram em seu funeral 7 mil jornalistas creditados e, pelo menos, quatro milhões de pessoas, a maior reunião de chefes de Estado e de governo da história fora da ONU. Era um sinal da importância atribuída ao Vaticano pelos tomadores de decisão e demais pessoas poderosas do mundo.
A influência vaticana está, agora, de pé e a todo vapor, quando Francisco se pronuncia contra a pena de morte, as guerras, as armas nucleares, a pobreza, a discriminação, a corrupção e o crime organizado. Ele exige uma ação mais firme, junto com a ONU, em nome dos oprimidos e excluídos do mundo.
Depois de expandir a composição global do Colégio Cardinalício, Francisco levou a sua mensagem a 30 países, inclusive a Israel e à Palestina, Turquia, Cuba, Egito e a República Centro-Africana; tem convites para visitar outros, incluindo o Sudão do Sul.
Enquanto isso, diplomatas vaticanos têm se envolvido pesadamente em negociações de paz em países como a Venezuela e a Colômbia e vêm tendo presença marcante em iniciativas internacionais como o Fórum Pacto Global 2018, da ONU.
Em Myanmar, no mês de novembro do ano passado, Francisco sabia que decepcionaria alguns ao não chamar pelo nome o povo Rohingya, duramente oprimido no país, dizendo aos jornalistas, no voo de volta para Roma, que “a porta teria se fechado” se tivesse agido de maneira diferente da que fez. A sua mensagem, porém, foi transmitida – e foi ouvida claramente.
Embora tenha negado o “prazer” de uma denúncia pública, explicou, o papa falou “tudo” nos encontros com autoridades do governo. E instruiu os bispos de Myanmar a se pronunciarem pela “dignidade e pelos direitos de todos, especialmente dos mais pobres e mais vulneráveis”.
Quando as feridas são “tanto visíveis quanto invisíveis”, uma busca austera por um denominador comum às vezes ajuda mais que condenações que saem bem nas manchetes. Eis uma área onde as tradições diplomáticas do Vaticano podem ainda se mostrar altamente efetivas.
O mesmo irá valer com a China?
Analistas experientes concordam que é essencial diferenciar claramente entre as circunstâncias locais, precisando-se estudar minuciosamente todas e entendê-las intimamente. No mundo onde é complexo a administração da Igreja, não pode haver uma abordagem do tipo “o que vale para um vale para todos”.
Parte do trabalho de Francisco já sofreu uma oposição amarga.
O encontro em fevereiro de 2016 em Cuba que teve com o Patriarca Ortodoxo Kirill, da Rússia, provocou dúvidas entre os católicos ucranianos e da Europa Oriental, que temeram ele que servisse de propaganda política em benefício do Kremlin – acusação também feita ao secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin, quando visitou Moscou em agosto passado.
Se for para a “diplomacia da misericórdia” trabalhar, ela deve ir além da ajuda humanitária digna e também ter um fundamento firme na realidade.
Apesar de todos os ricos e perigos, no entanto, os esforços para a construção da paz feitos pelo Papa Francisco devem ser apreciados e seguidos atentamente. Eles demonstram como a religião pode fornecer uma base e uma orientação à ação efetiva e inovadora.
Também mostram que líderes católicos influentes e autoconfiantes podem desempenhar um papel importante na promoção da participação, cidadania, diálogo e reconciliação – também na oposição aos “Herodes de [hoje]”, como Francisco os descreveu na homilia de Natal de 24 de dezembro de 2017, que são os líderes que meramente buscam “impor o seu poder e aumentar as suas riquezas”.
Se o regime chinês se pôr a explorar isso, poderá esperar um retorno no futuro.
O artigo é de Jonathan Luxmoore- National Catholic Reporter.